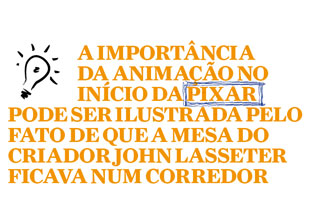SERENDIPITY
Retomando as atividades… muitas coisas espalhadas por aqui, se perdendo e envelhecendo esquecidas. Por isso, vale o recomeço pelo acaso.
Essa despedida da coluna dominical do Gilberto Dimenstein, em 27 de novembro de 2011, fala dessas coisas que acontecem por aí. E mudam tudo.
Minha palavra mais bonita
Não conheço nenhuma palavra mais bonita do que “serendipity”. Por isso, vou usá-la na minha despedida deste espaço, que, a partir de hoje, deixa o papel e migra para a edição digital do jornal.
Inventada por um inglês, em 1754, que se inspirou numa lenda persa, “serendipity” é uma palavra impossível de ser traduzida para outros idiomas num único termo.
Superficialmente, ela significa o prazer das descobertas ao acaso. Um velho amigo encontrado numa inóspita cidade estrangeira, os acordes de um violino tocado em um parque numa tarde de outono, uma súbita paisagem de uma praia que aparece quando caminhamos numa mata fechada.
Um encontro amoroso no final da madrugada, quando já estávamos conformados de ficar sozinhos ou um prato feito com ingrediente exótico num improvável restaurante de beira de estrada.
Mas o significado profundo de “serendipity” vai além do imprevisto. É o encanto da transformação dos acasos em aprendizagem. O bacteriologista Alexander Fleming viajou de férias e se esqueceu de guardar os pratos em que fazia experiências para curar infecções. Um fungo caiu do teto em um desses pratos. Descobriu-se o antibiótico. Se o tal fungo não tivesse caído na frente de um bacteriologista atento, seria apenas um bolor inútil.
Por trás da palavra, existe a ideia de que o melhor da vida é a aventura do aprender pela experiência -o que compensaria os riscos e a dor provocada pelos sucessivos erros.
A Folha é meu “serendipity”. Investiguei as mais variadas modalidades de corrupção, o assassinato de crianças, a exploração sexual de meninas, os personagens invisíveis que habitam as cidades. Os cenários iam da cracolândia, em São Paulo, aos morros do Rio, ao Harlem, em Nova York e às favelas da Índia ou da Colômbia, passando pelos gabinetes refrigerados de Brasília e, neste momento, pelos centros de pesquisa de Harvard e do MIT. Ganhei todos os prêmios possíveis como jornalista e escritor, o que é ótimo para o ego, é claro, mas o que sobrou mesmo foi a emoção da descoberta.
Nesse meu flanar, fui fisgado por um encontro casual, que me tirou da segura e previsível rota do jornalismo. Passei a me emocionar não só com o furo, mas com a comunicação, especialmente com seus recursos digitais para a aprendizagem e com o engajamento comunitário. É um olhar arriscado: não só assistimos ao jogo para descrevê-lo. Somos também jogadores. Em meio a uma efervescente polêmica sobre os limites da objetividade, estudiosos da mídia dos Estados Unidos batizaram, com diferentes nomes, esse olhar de jornalismo: “civic”, “public” ou “community”. No Brasil, a tendência ganhou o nome genérico de “educomunicação” e virou curso de graduação na USP.
Ao morar em Nova York e voltar para São Paulo, apaixonei-me pela possibilidade de usar os recursos digitais para ajudar a fazer das cidades uma experiência educativa. As cidades são o melhor meio de comunicação já inventado: um ponto de encontro e difusão das informações.
Confesso que, nessas experimentações entre comunicar e educar, não sabia mais direito o que eu era ou o que eu fazia. Foi o que me levou a aceitar o convite para participar de uma incubadora de projetos em Harvard. Vim aqui para ficar seis meses. O projeto estendeu-se por mais seis meses e, agora, vai até o final de 2012, embora eu possa ficar parte do tempo em São Paulo, desenvolvendo o projeto de jornalismo comunitário em colaboração com o Media Lab (MIT).
Nesse flanar por outros caminhos, tornei-me dispensável -dispensável e caro- para versão impressa do jornal, obrigado a lidar com os crescentes desafios da mídia no papel.
Mas aí está a dor e a delícia do “serendipity”: para viver experiências, sempre estamos nos despedindo de alguma coisa de que gostamos.
PS – Aproveito esta despedida da versão impressa para dizer publicamente o que tenho falado privadamente. Não fosse Otavio Frias Filho, disposto a apoiar tantas experiências por tanto tempo, eu não teria tantas histórias para contar.